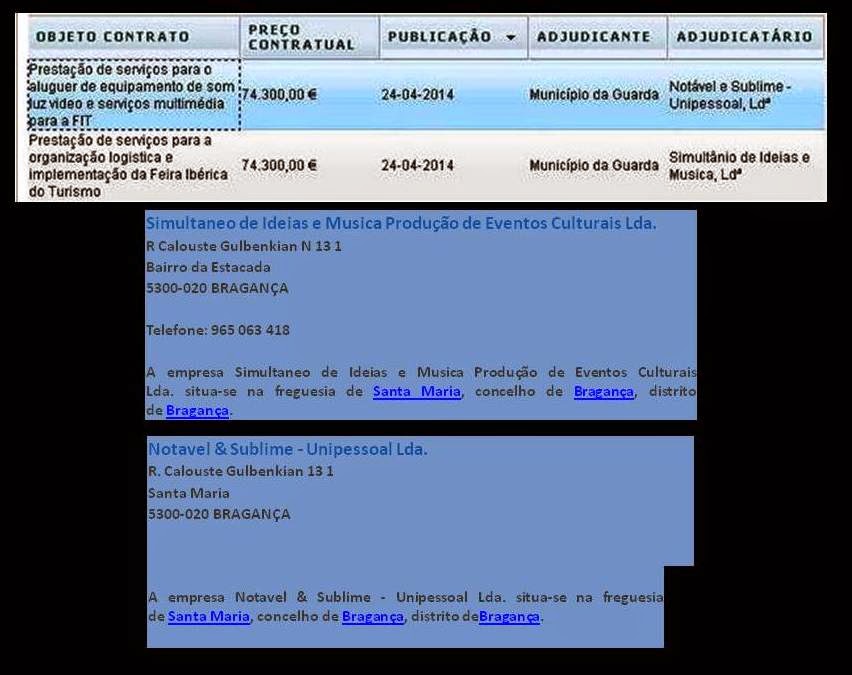|
| Foto de um camarada de guerra - Evacuação de feridos |
Enquadramento
Na
Constituição Portuguesa de 1933, Salazar fez incluir o Acto Colonial (1951) na
parte II do capítulo VII. Portugal era então definido como pluricontinental,
com um espírito unitarista em conformidade com os ditames do regime
Salazarista, sempre resistente aos movimentos descolonizadores do pós-guerra
(2ª Guerra Mundial).
Esta
visão Ultramarina do Estado Novo levará os grupos emancipalistas das Colónias
Portuguesas à luta armada, primeiro em Angola, depois na Guiné e em Moçambique.
Mas
Salazar apesar das sucessivas condenações da ONU não cede, nem muda de política
Ultramarina a qual foi condicionada pela natureza não democrática do regime
político português e pela conjuntura internacional do pós-guerra, favorável ao
movimento anti-colonialista e emancipalista de África.
A
política colonial do Estado Novo, cuja Magna Carta é o Acto Colonial, passou a
ser uma componente fundamental da estratégia de sobrevivência do regime
autoritário português.
Durante
cerca de treze anos entre 1961 e 1974, Portugal ver-se-á envolvido numa guerra,
contra os movimentos nacionalistas africanos em Angola, Guiné e Moçambique.
Durante este tempo, sucessivas gerações de Portugueses foram obrigados a
participar neste conflito.
Pensa-se
que mais de 800 mil homens foram mobilizados para África, enquanto algumas
dezenas de milhares se furtaram a participar na guerra colonial, emigrando
clandestinamente ou exilando-se no estrangeiro.
Dada
a importância de tais factos podemos afirmar que todos os grupos e camadas
sociais da sociedade portuguesa não ficaram imunes aos efeitos e consequências
que resultaram do conflito. Por sua vez todas as populações das colónias
portuguesas, foram compelidas a lutar em vez de debaterem livremente e
assumidamente as suas ideias de emancipação.
Mais
uma vez a História e os seus actores ficaram no passado e para o futuro reféns
das ideologias e dos interesses autoritaristas.
De
acordo com o palestrante Coronel Matos Gomes, na guerra colonial a maioria dos
combatentes não se identificavam com a missão desta guerra, queriam que o tempo
passasse depressa, para o tão almejado regresso, sofriam de solidão, não eram
preparados psicologicamente e muitas vezes eram mal equipados militarmente
falando.
Na
esteira destas afirmações decidi fazer uma entrevista aberta ao Alferes
Miliciano número 00568268, que foi mobilizado e embarcou para Vila Cabral,
Capital do Niassa em Moçambique no dia 14 de Junho de 1971 e regressou a
Portugal no dia 24 de Agosto de 1973.
Entrevista
Eu
– Ser um soldado português na guerra colonial em África foi um acto de
obrigação ou voluntarista?
Alf.
– Foi um acto de obrigação, porque era obrigado a ir, e ao mesmo tempo de
comodismo porque eu tinha uma especialidade que à partida me garantia que não
entrava directamente em conflito com o inimigo.
Eu
– O espírito militarista onde estava?
Alf.
– Não estava em lado nenhum. Nunca o tive, nem hoje sei o que isso é, e
raramente encontrei entre os milicianos alguém que o tivesse.
Eu
– Porque acontecia isso?
Alf.
– Porque pensávamos assim: O nosso território, Portugal Continental, não estava
em perigo, nem as nossas gentes, e não havia qualquer tipo de identificação com
as colónias.
Eu
– Mas não esqueça que havia lá muitos portugueses
Alf.
– Em Moçambique essa questão é um dos lados mais “obscuros da guerra” porque os
colonos eram simultaneamente contra a intervenção dos soldados portugueses e ao
mesmo tempo exigiam ao governo central mais medidas de “repressão” leia-se
violência contra os africanos negros. Raramente se viam filhos de colonos
brancos em especialidades que os levassem às zonas de combate, em Moçambique.
Eu
– Como explica essa contradição?
Alf.
– Talvez pela proximidade da África do Sul com o regime de “Apartheid” que
muitos queriam para Moçambique. As más relações da Igreja Católica com os
colonos brancos. O resto fica para os estudiosos investigarem, sobretudo na
Cidade da Beira. Constatei que ainda havia muita escravatura encapotada em
Moçambique e que a Igreja denunciava.
Eu
– Comente a afirmação: “Os combatentes nesta guerra não estavam preparados
psicologicamente, nem fisicamente e só desejavam o regresso”.
Alf.
– Preparados fisicamente estavam, até porque era tudo gente jovem.
Psicologicamente e militarmente é que não estavam, porque os instrutores nunca
tinham feito guerras deste dipo, de guerrilha, e não sabiam lidar com situações
em que a população apoiava os guerrilheiros. Militarmente o equipamento de
guerra dos guerrilheiros era muito mais moderno que o nosso, e mais adaptado
àquele tipo de guerra.
Eu
– E quanto a só pensarem no regresso?
Alf.
- Quando se está num sítio que não se conhece, os companheiros são
conhecimentos de há dois ou três meses, instalados em condições precárias, com
a família e os amigos muito longe, em que o apoio psicológico vinha do Capelão
e de alguns amigos, numa guerra que nada nos dizia, só pensávamos e sonhávamos
com o “Friendship avião que nos levaria para a Beira”, contávamos todos os dias
que faltavam até à chegada do “Checa” camarada que nos ia substituir.
Eu
– Os militares dessa guerra “sofriam de solidão?
Alf.
– Eu creio que não. Provavelmente “sofriam” de solidão, quando saiam para
missões de combate ou de patrulhamento. Aí cada um pensava para si, e no que
poderia acontecer no momento seguinte.
Eu
– Depreendo que não havia espírito de grupo?
Alf.
– Não. Havia espírito de grupo que se manifestava na acção e não nos momentos
que a precediam, até porque na maior parte das missões o “silêncio” era
obrigatório.
Eu
– Consta-se que a solidão e a falta de preparação militar se “apagavam” no
“Whisky”. Concorda?
Alf.
– Concordo só em parte, porque se nos bares dos oficiais o Whisky era muito
barato e sem limite e havia a chamada “dotação” mensal de garrafas, já para
Sargentos e Soldados o “Whisky” era pouco e mau sendo a cerveja a bebida
dominante e em muita quantidade, além disso quando se estava no quartel,
faziam-se muitas festas que metiam muita comida e bebida. Eram essas festas que
contribuíam para não haver solidão.
Eu
– Os militares que faziam essa guerra sabiam porque razões a faziam? A pergunta
remete para a consciência política imanente a essa guerra.
Alf.
– Nesse período da guerra, uma parte da hierarquia militar já era dominada
pelos Capitães, Alferes e Sargentos Milicianos que tinham formação académica e
todos eles faziam parte da geração de 68/69. É evidente que uns tinham mais
consciência política do que outros. Já ao nível dos Soldados havendo muito
analfabetismo e sendo oriundos na sua maioria do Portugal rural tal consciência
política não podia existir.
Eu
– Que papel teve então essa “elite” militar no desfecho dessa guerra?
Alf.
– Havia a consciência de que esta guerra estava a “cortar” as suas carreiras
académicas e profissionais dos futuros oficiais. Os Quadros da Academia Militar,
já não eram suficientes para as necessidades desta guerra e com isso obrigava a
criar, os Capitães Milicianos. O “choque” entre Capitães Milicianos e Capitães
do Quadro aliado à consciência de que a guerra não podia ter uma solução
militar levou à criação do chamado “Movimento dos Capitães” do Quadro que
depois esteve na origem da Revolução de 25 de Abril de 1974.
Eu
– Pode dar-me a sua opinião pessoal, da forma tão contestada como se fez a
descolonização nesses territórios?
Alf.
– Os muitos anos de guerra, as atrocidades cometidas de parte a parte, a
radicalização do conflito militar levou a que nessa data não houvesse
possibilidade de entendimento de ambas as partes, tanto mais que as grandes
potências mundiais, ao estarem indirectamente envolvidas no conflito, não deram
margem de manobra aos negociadores.
Eu
– Posso concluir que há ainda muito por “contar” sobre esta guerra?
Alf.
– Agora já aparece muita gente a escrever sobre este tema, sobretudo os que
participaram na guerra, sendo sempre uma visão parcial, mas a visão global
(História Total) ainda não está feita. Uma boa abordagem, do meu ponto de
vista, foi feita pelo Jornalista Joaquim Furtado, que na RTP1 em vários
documentários, apresentava a visão de todos os envolvidos.
Conclusão
Com
o presente relatório, a entrevista que realizei a um participante na Guerra
Colonial, obtive a confirmação de alguns pontos de vista apresentados pelo
Coronel Matos Gomes, na sua comunicação realizada nas XII Jornadas de História
de Seia.
A
comunicação do Senhor Coronel motivou-me para este tipo de trabalho.
Também
como Professora de História, realizei aquilo que há muito desejava fazer:
Passar a escrito, testemunhos de “memórias vivas”.
Por
outro lado, pude concluir, que há ainda muito para investigar, e fazer História
da Guerra Colonial Portuguesa da década 60/70.
Achei
curioso que muitas das comunicações sobre este assunto tivessem sido feitas por
ex-combatentes de carreira militar que passado que foi o tempo de guerra se
licenciaram em História e fizeram mestrados ou especializações nestas áreas.